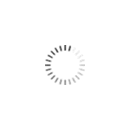Dublin, 1997
Se, por mais que procure, ainda não descobri a tal lagoa negra (Dubh Linn), pelo menos limpa-se logo a névoa da origem do nome. Mas não admira - os irlandeses são mais práticos, diretos e espanejados do que nós. Talvez porque melhor plantação celta não conheço, livres da influência de togas e legiões, mesquitas e meias luas. E por serem independentes da garra britânica desde 1922, ainda que a duríssimas penas. É inevitável a comparação – e nós? Se também temos algum ADN celta; se também conseguimos aguentar 60 anos de Filipes e os mandámos comer tapas para o Escorial, não se pode negar uma dose de eclipse - o vício de moçarabarizar nostalgias e meias saudades; recheios de críticas afiadas contra o que é nosso, sobretudo quando nos sentimos em minoria, detalhe insuportável para quem se sinta português. Mas cada um, com cada qual – tanto a Irlanda como Portugal amargaram o fel gelado de emigrar e emigrar para sobreviver. Será esse o motivo para termos simpatia inata pelos irlandeses? E talvez, alguma deles, por nós? Há 2 provérbios irlandeses que entreabrem a porta - “Toma muito cuidado com a ira de um homem com muita paciência”, até porque “ninguém se deve queixar de andar descalço até ver alguém que perdeu as pernas”, ou seja, a sabedoria popular tanto é irlandesa como nossa, como não tem fronteiras (claro que me faz lembrar “As Vinhas da Ira” de Steinbeck e “Os Gaibéus” de Alves Redol). Enfim, dou a mão à palmatória - depois de ver, farejar, narigar, ouvir e sentir o que consegui da Irlanda-Irlanda (esqueçam o enclave ouriçado do norte), acredito que, no alfarrábio de genes de viver como se é e de ser como se vive, a Irlanda consegue ser uma ilha “virada para fora”, enquanto o nosso Condado, nos deixa à porta, a cesta de uma ilha “virada para dentro”.
Mas não é tema para monólogo. Enquanto me auto embrulho neste tropel de ideias à beira de Dun Laoghaire, (faz lembrar Cascais), quase que me esquecia da Lynne, amiga de data sem calendário, que me convidou a deambular pelos arredores marítimos de Dublin, ao cair da noite que, por aqui, acontece sem se dar por isso. Lynne Hannah O´Connor, filha de pai irlandês e de mãe minhota, conhece tão bem os achaques e brilhos do nosso Condado (nasceu perto de Barcelos), como o drama da hemorragia irlandesa (perdeu o avô e 2 tios em tiroteios com os ingleses por volta de 1919). Forma-se em Coimbra, parte para Dublin onde dá aulas de português; traduz Eça, Antero, Florbela, Pessoa, Jorge Amado e Drummond; casa com Patrick (também professor de línguas e outra vítima de explosão terrorista). É hoje em dia conhecida como “Mamó Lynne” (Avó Lynne), ainda ruiva, pouco grisalha mas ultra dedicada a ser bisavó. Conhecemo-nos mais por escrito do que pessoalmente e, mesmo neste campo, temos opiniões diferentes como convém a quem dedilha livros. Querelas antigas e saudáveis, um tipo de óleo de fígado de bacalhau em receita caseira. Mas quando mencionamos Joyce e/ou Pessoa, é filtro mágico, osmose sem emenda. E aqui estamos, passados uns bons anos, a calcorrear pela beira-mar, mergulhados num silêncio calculado, a ver quem é o primeiro a abrir o postigo. A verdade é que sabemos que por causa do Ulysses e da Ode Marítima, Dublin e Lisboa têm mais que um substrato comum. De repente, Lynne não resiste e abre a récita: “- Sabe? acho que Dublin e Lisboa acabam um dia por ser o que são, porque o que são, deve ser. Sobretudo após o “Depois De”. Perguntei se era charada hieroglífica. Fitou os olhos no mar, deixou passar uns segundos a acompanhar o voo das gaivotas, lanço um meio sorriso e comentou com ar de quem descobre uma novidade, há muito conhecida: - Veja que se Dublin se divide em dois períodos, Antes e Depois de James Joyce, quanto a Lisboa, é o mesmo, Antes e Depois de Pessoa. Só que no caso deste, há o luxo de um múltiplo de 5 ou 6 chapéus com bigodinho miúdo, fato coçado de luto, o desfiar permanente de Pessoa-CamposReis-Bernardo Soares-Caeiro e quantos demais ainda não se descobriram…
Tem razão. Pelo olho de Joyce, esta Dublin calça sapatos emprestados; usa roupas roubadas, gargareja água inquinada; arrota, vai a enterros para marcar presença e ver se alguém paga uma cerveja no pub mais próximo; recose e pesponta as meias rotas; tenta escrever coisas que já esqueceu e pouco importam; enfeita a rotina como se fosse a revelação dos Vedas, um mini universo em que 60 segundos podiam ser 60 dias enquanto se espiam as coxas distraídas de quem as mostra (mas não de quem as vê), enfim, tudo, tudo na medida anárquica mas perfeita de um dia. Apenas um dia. 24 horas que podiam ser uma vida desdobrada, que se arrasta de balcão em balcão; de esquina para calçada, de colina para largo. Onde não há, mas quase parece haver uma permanente neblina. A tal, a gémea da Ode Marítima. Sabe-se que Joyce e Pessoa deixaram obras de génio e que, como tal, demoraram, e talvez ainda demorem, a ser entendidos. A proverbial e rotineira realidade de nascer e de viver, antes do seu tempo, o que ajuda é perceber como e porquê. Lynne é uma grande dona e senhora de provérbios, não há dúvidas “- O génio é um pente que se oferece para ser usado e auto aplicado com arte e saber, por quem é careca”. Concordo: “-Lynne, não chega. Joyce e Pessoa, além de carecas, foram solitários e com isso, sim, a omelete está servida. Não é por acaso que Joyce e o seu anti-herói Leopold Bloom e Álvaro de Campos repartem o cordão umbilical. Há até um paradoxo – se Dublin é irlandesa, não deixa de universalizar a cidadania quando é o Ulysses a mostrar o passaporte, não acha?”
Lynne conhece bem Lisboa, sabe o que diz: -Sim, não é só Dublin que é símbolo de arte irlandesa, imperfeita, sempre por concluir, o “tal espelho partido por um criado”. E quando é completa graças ao génio de um criador, a Irlanda e Dublin não estavam preparadas para isso. Pelo que conheço de Pessoa, passa-se o mesmo com Portugal e Lisboa. Joyce e Pessoa são “nacionais”, nem precisam mais do que uma mesa de pub, do Nicola ou do Martinho da Arcada, de um café, de um cigarro para irem para uma galáxia que ninguém ainda sabe bem onde fica. Nem importa saber.
Faz-se um silêncio que a brisa fria penteia nos meus óculos. Cai-me distraída uma gota na testa, talvez comece a chover. Mas que importa? Penso no que ela disse e provavelmente ela faz o mesmo com o que eu larguei da boca, sem pensar muito. Ah, sim, o habitual dizer sem palavras, pensar sem ver letras. Mas antes que acrescentasse fosse o que fosse, Lynne, Mamó Lynne”, a avozinha, aperta-me as mãos quase em protesto, quase em despedida, coloca um sorriso nem amargo, nem doce, mas digno de um cheque mate. E define:
- Repare bem que os “criados”, os “servos” é que mudam. Joyce e Pessoa tocaram onde mais ninguém consegue tocar por enquanto. Pensam que o conseguiram mas ficam pela tentativa. Mas como estão muito acima do vulgar que disfarça o verniz, nós próprios não resistimos a interpretá-los, criticálos e imitá-los mal e porcamente. Tudo porque achamos ter esse direito, porque lhes pagámos quando comprámos os livros. É a tal coisa – sorte, sorte, na Irlanda, é encontrar o tal trevo de 4 folhas, Mas com Joyce e Pessoa, teria que ser um trevo de, pelo menos, cinco folhas. Duas e meia para cada um. Ou seja, a do meio, perfeitamente geminada.”