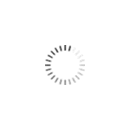Durante algum tempo, pouco, se comparado com os que o fazem há muito, ou muito se olhar para os que o fazem há pouco, fui escrevinhando por aí, por lugares vários, onde me apeteceu e me senti confortável. Falei de flores e de pássaros, de sol e de chuva, de gentes e lugares. Escrevi sobre livros, autores, pequenos escritos, com a paixão que coloco em tudo o que faço. Viajei por lugares sem sair do meu, este, onde agora vos escrevo o último texto antes de fazer uma pausa que sinto ser justa. Justa para quem me foi lendo ao longo de anos e a quem tanto devo. Justa a quem me deu espaço e não merece que me vá arrastando por aí. Justa para os que me estão mais próximos, que me conhecem e sempre me ouviram dizer que há um tempo para tudo. Enquanto escrevi sobre flores, elas foram florindo. Enquanto escrevi sobre pássaros, eles foram voando. Enquanto escrevi sobre livros, eles foram ficando onde e como sempre os conheci. Indiferentes e quietos, como convém, envelhecendo com a patine do tempo. Silenciosos, nas estantes. No lugar certo.
Porque há um tempo para tudo sinto ser este o tempo de parar por uns tempos. Talvez me sobre algum tempo para ler mais um pouco, do tanto que ainda me falta para o que gostaria de ler. Talvez procure arrumar os papéis que fui salpicando por aí. Talvez ganhe ainda algum fôlego para um ou outro mergulho no mar de uma escrita, de uma outra escrita que espera por mim.
Por agora, por aqui me fico, como alguém disse um dia com o que fica do que passa. E no mês em que passa mais um ano sobre a morte de Agustina e Saramago, deixo-vos com um texto escrito para a NERVO/13 - Colectivo de Poesia e nela publicado, neste ano do Centenário do seu nascimento.
Cem anos, talvez os poetas...
Poderia sentar-me nas escadas da Lello e começar por aí. Ir descendo os degraus, olhando as estantes, pegando num livro, folheando ao acaso, deixando-me levar pela viagem do tempo. Era assim que gostaria de escrever este texto. Sem baias, nem margens nem nada que dissesse, não, não vás por aí. Deveria falar-vos do livro, de alfarrabistas, editores, leitores e coisas assim. Percorro a memória dos disputados leilões do Manuel Ferreira, das belíssimas edições da Caixotim, dos fundos do Chaminé da Mota ou das cartas manuscritas que, num dia de bom humor, consegui trazer do Nuno Canavez. Sempre gostei dos ventos do norte. Mas cem anos são cem anos. E Agustina e Saramago não me perdoariam o ocaso. Não será poesia? Que me perdoem os poetas, se um dia disse que gostaria de escrever sobre Agustina, como ela tão bem o fez sobre os estados de alma. Não era o tempo de escrever sobre quem não posso, que a chuva teima, o vento assusta e Amarante dista mais do que parece. Terra de Pascoaes e de Amadeo ali nas faldas do Marão, já Unamuno se apaixonara pelas Sombras do poeta, filosofia sombrosa que não sombria.
Gostaria de vos poder falar dos lugares brandos, terras de promissão e de poetas, que para Agustina, ambos seriam uma e a mesma coisa, nos sentidos mitológico e delicado. De poder pular entre Douro e Minho e de trepar, percebendo, os degraus da idade “…porque aos quinze anos se tem um futuro, aos vinte e cinco um problema, aos quarenta uma experiência e só com meio século verdadeiramente uma história.” Gostaria, como ela, de vos falar de Dostoievski, abrindo qualquer livro em qualquer página e a lesse ali mesmo como nos Sermões de Fogo: “… que quer? não nasci para aquecer o lugar, apetece-me sempre deixar tudo ao fim de algum tempo. As pessoas são como os pardais; se estão vivos fogem, se não fogem é porque são de palha…”. Ou ainda de vos falar de Camilo, como ela admiravelmente falou escrevendo, e dizer-vos que nele, o romance é a história, não do que acontece numa vida, mas do que se evitou que acontecesse, fundindo o impossível, confortando o inseguro. Como gostaria de poder falar-vos da quase gente e das quase coisas dos seus livros, com travos ázimos e perfeitos. Da água sempre presente que vai escorrendo por entre as páginas. Desse segundo milagre, que é A Sibila, das figuras femininas, dos enigmas e dos seus mitos. Dos anos pródigos da sua escrita, de tentações nómadas irreparáveis, mal se instalando frente ao Douro, não se afofando nas almofadas dos sofás. E de vos contar porque ela, Agustina e Oliveira, o Manoel, cedo se teriam percebido mutuamente, na simbiose da palavra e da imagem, talvez porque os génios cedo se pressentem.
Disse um dia que gostaria de escrever sobre quem não posso, que isto de escrever sobre a chuva sem que lhe conheça a nuvem, ou do jasmim sem que lhe sinta o cheiro, é assim como falar de Zeus em dia de sol radioso. Suspiro. E saio. Saio com Agustina debaixo do braço, sem que disso se tenha apercebido. Soubesse ela que a trago comigo vezes sem conta, bisbilhotando as profundezas do sentir, de todos os sentidos, os cinco e os outros mais e logo me acenaria:"... o contacto com o medíocre engendra a má fé, mas o convívio com o que é simples estimula a paciência..." Quando um dia voltara Agustina, vou lembrar-me sempre da timidez da alma. Porque também a escrita deve ficar na penumbra, sem que a claridade ofusque as margens. Como gostaria de escrever sobre Agustina. Mas a chuva teima, o vento assusta e tudo varre…
Regresso então às velhas escadarias da Lello. Dizem ser das mais bonitas livrarias do mundo. Talvez seja. E penso nos que a pensaram e conceberam. E em todos os que fizeram suas as mais bonitas livrarias do seu mundo. Como o Zé Ribeiro da Ulmeiro, onde aprendi que os livros não servem para estar arrumados. Perdia-me por ali. Com ele, a Lúcia, o pó, o gato e tudo. Falávamos da escrita. E do mundo outros. E até de livros também. Recuo um século e volto a Saramago. Ao Saramago das pequenas memórias. Quando me dizem que não o leem ou que o não suportam, pergunto-lhes se falam do homem ou do escritor. Alguns, apenas me dizem por cortesia para comigo que não para com ele, que sim, que já tentaram mas não conseguiram passar dali, da quarta ou quinta página. Que o homem amarrotou a gramática, engolindo vírgulas e a pontuação, tornando-lhe a digestão difícil, causando-lhe assomos de desassombro. Outros, sem papas na língua que ele também as não teve, empurram-no liminarmente para o índex. Vou ouvindo calmamente. E, quando insisto em saber o que conhecem dele, sobre ele ou sobre o que escreveu, a indiferença instala-se e o incómodo acentua-se. Saberão talvez que resolveu partir por razões estranhas, que é estranha a forma como escreve e que, talvez estranhamente, tenha sido Nobel, num país onde Um a mais, incomoda sempre mais, que um a menos.
E lá vou dizendo, quando me pedem para falar sobre Saramago, que nunca começo por falar do prémio nem de Lanzarote, muito menos do seu (mau) génio, por vezes genial. Começo sim pelo princípio, que será sempre uma boa forma de começar uma boa história. Pouco original é certo, mas envolvente e de arregalar olhos e aguçar ouvidos. E esta é simples e dará que pensar.
É, também por isso, que eu gosto dele. Do Saramago das pequenas memórias. Do neto da Josefa e do Jerónimo, plantado algures entre o Tejo e o Almonda no tempo das velhas oliveiras antes dos milharais, dos restolhos do trigo já ceifado, do punhado de azeitonas e figos secos no alforge.
Gosto do Saramago da lezíria, cavaleiro de um cavalo de pau numa feira de carrosséis no Sameiro, que apesar de nascido por ali, no meio da terra deles, dos cavalos, nunca conseguiu que o deixassem subir para um a sério, e dessa desfeita nunca se desfez. Gosto do Saramago, filho do ‘567’, polícia de esquadra mas também de rua, naquela Lisboa de outra época, para onde emigrou com a família, partilhando casas e amuos, que as posses para mais então não dariam. E que fugia meio envergonhado, meio escondido, para as águas furtadas do vizinho Chaves, artista e pintor na Viúva Lamego, que para engrossar o pecúlio, pintava de noite o que sobrava de dia, trazendo louça da Viúva para casa, onde a vestia de arabescos, volutas e encordoados.
Gosto dele, do rapaz que vivia e coabitava espaços, onde a sua cartilha de juntar as letras foi “A Toutinegra do Moinho” - o único livro da biblioteca lá de casa, mais um jornal que o seu pai ia levando dia a dia, todos os dias debaixo do braço, sujando-lhe a manga da farda de polícia.
Foi assim, por esses trilhos, pé descalço nas terras lá da lezíria ou de botas calçadas nas calçadas da Mouraria, com um livro, um jornal, por entre escolas e bibliotecas, serralharias e tertúlias várias, que entre o torno e a caneta, se foi levantando do chão, engolindo vírgulas, erguendo memoriais entre a lucidez e a cegueira.
Quando quiserem falar de Saramago, comecem então pelo princípio. Não falem apenas do seu prémio nem de Lanzarote, nem lhe apontem só aquele seu mau génio, ainda que genial. Falem também, e sobretudo, da causa das coisas. E depois leiam-no. E tentem perceber a genialidade do menino que caiu dum cavalo sem que nunca nele o tivessem deixado subir.
E agora, no ano em que passam cem anos que nasceu, deixem-me que fique com as suas pequenas-grandes memórias:
“… Hoje tenho imagens desses animais por toda a casa. Quem pela primeira vez me visita pergunta-me quase sempre se sou cavaleiro, quando a única verdade é andar eu ainda a sofrer dos efeitos da queda de um cavalo que nunca montei. Por fora não se nota, mas a alma anda-me a coxear há setenta anos…”, José Saramago em “As Pequena Memórias”
Seria suposto escrever outro texto, talvez um ensaio, sei lá. Mas não tenho emenda. A escrita não é o que gostariam que fosse, antes o que sai das entranhas da alma. Vou descendo os degraus de todas as Lello que conheci e olhando em redor. E saio. Talvez os poetas me percebam. (texto publicado na Nervo/13 - Colectivo de Poesia)
E agora, sim. Por aqui me fico. A gente qualquer dia vê-se. Agradeço-vos muito. A sério.