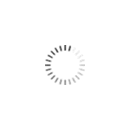Dei comigo inesperadamente em cima da papeleira, eu com cinco anos na porta do prédio, no retrato feliz que o Tutu fez. O bibe branco enfolharado, o laço de moirée como um remate glorioso, as pernas fininhas, na moldura em que a minha mãe me instalou no século passado.
O Tutu era o mais novo de três irmãos, que se licenciaram e trabalhavam em lugares de relevo. Todos com nomes começados por A, como o pai que se chamava Alfredo. A mãe, D. Berta, era mais uma cabeleira branca sempre em grande desalinho. De vez em quando, a cabeleira debruçava-se da janela do primeiro esquerdo e esganiçava o meu nome numa promessa de bolo de ananás acabado de sair do forno. Adorava ir ao primeiro esquerdo, mais para ver o cágado que pelo bolo. O cágado da Berta era uma instituição, que hibernava a maior parte do ano, uma eternidade para quem tinha cinco anos, sob o louceiro D. João V e também onde passava a maior parte do dia depois da refeição de lascas de bacalhau demolhado, única ocasião em que parecia feliz. A Berta não limpava o pó, porventura para respeitar o recolhimento da criatura, pelo que quando saía da hibernação e corria para a tijela do bacalhau, trazia sobre a carapaça uma quantidade acumulada de cotão da altura que as pernas arqueadas do louceiro permitiam.
O Tutu não tinha vocação para estudar. Dedicava-se aos filmes, que enrolava delicadamente e guardava em caixas de lata estreitinhas, e à fotografia. Revelava os retratos na dispensa da mãe, acendia uma luz vermelha, fechava a porta e eu ficava cheia de curiosidade pelos tabuleirinhos com líquidos malcheirosos até que ele saía com um papel todo molhado, pendurava-me de pernas para o ar no cordel esticado no canto da sala com duas molas de roupa e dizia “levo à tua mãe quando estiver pronto”.
Para além do louceiro, o Sr. Alfredo, que na avaliação sensata do irmão não possuía grande pendor para administrar a empresa familiar, herdara a pensão vitalícia, garrafas de champanhe francês, a grafonola e uma caixa de discos que alegravam o primeiro esquerdo com valsas de Strauss ou tangos de Gardel e vivia dentro dum pijama às riscas, atrás duns óculos de aros de tartaruga, observando o mundo da janela. Uma vez por mês, saía de fato completo, dois números acima do seu tamanho, um chapéu mole um bocadinho amolgado, para ir receber a pensão. Na volta, com passagem obrigatória pela taberna do António Duarte para um copinho de tinto, trazia com ar feliz um pacotinho de pastéis do Confeiteiro ou um raminho de violetas para a mulher.
Um dia o Tutu apareceu com uma lambreta. A vizinhança ficou sabendo pela cabeleira esvoaçante, debruçada da janela, que lhe tinham arranjado emprego nas portagens da ponte de Vila Franca e precisava de transporte.
Desde que viemos embora, nunca mais soube nada do Tutu até aquela tarde em que o meu pai me chamou com urgência para ver uma reportagem na televisão. Entrevistavam um vendedor na Feira da Ladra. Depois da surpresa exclamei com saudade: o Sr. Alfredo! Mas o meu pai protestou logo “qual Alfredo! Não vês que é o Tutu?” E era. O Tutu, tal e qual o pai, os mesmos óculos de aros de tartaruga, o mesmo chapéu mole levemente amolgado, o mesmo fato completo dois números acima do seu tamanho… E o Tutu dizia “aqui na Feira sou o Rei do Cinema!”
E eu, de pernas para o ar, pendurada com duas molas de roupa do cordel no canto da sala, o cágado a devorar lascas de bacalhau demolhado, Gardel enchendo o ar adocicado de aromas a bolo de ananás, eu na moldura onde a minha mãe me instalou no século passado a sorrir em cima da papeleira.
O rei do Cinema!
Consciência cósmica
Já não preciso de rir.
Os dedos longos do medo
largaram minha fronte.
E as vagas do sofrimento me arrastaram
para o centro do remoinho da grande força,
que agora flui, feroz, dentro e fora de mim…
Já não tenho medo de escalar os cimos
onde o ar limpo e fino pesa para fora,
e nem deixar escorrer a força dos meus músculos,
e deitar-me na lama, o pensamento opiado…
Deixo que o inevitável dance, ao meu redor,
a dança das espadas de todos os momentos.
e deveria rir, se me retasse o riso,
das tormentas que poupam as furnas da minha alma,
dos desastres que erraram o alvo do meu corpo…
João Guimarães Rosa (1908 -1967)